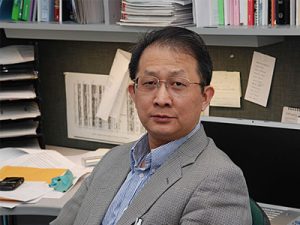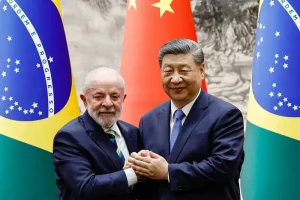》Estratégia chinesa desafia poder global americano – Expresso Noticias
Vamos ao assunto:
Tarifas, restrições e tecnologia não derrubaram Pequim, que diversificou mercados e protegeu sua economia de surpresas externas
Enquanto os Estados Unidos acreditam que a dinâmica de sua economia lhes dá vantagem em um mundo de livre comércio, a China se preparou meticulosamente para a nova realidade global. Décadas de planejamento estratégico permitiram ao país construir uma economia resistente, capaz de enfrentar desafios externos que Washington ainda trata como surpresas.
Sob a administração do presidente Donald Trump, os Estados Unidos lançaram uma série de ataques multifacetados à economia chinesa, desde tarifas pesadas até restrições ao acesso a tecnologias avançadas. Mas, como observam especialistas, “desde o governo do presidente Mao Zedong, a China já previa isso.” O sistema americano, baseado em abertura e interdependência, se choca com a contraparte chinesa, erguida como uma fortaleza de controle. Ambos os lados possuem recursos poderosos — mas apenas um se preparou para essa disputa ao longo de décadas.
Leia também:
Bloomberg: Como evitar uma guerra de manipulação eleitoral
Nomeação de Antoni nos EUA testa reação republicana à crise
Altos preços e juros recordes afastam americanos do sonho da casa própria
Desde o início do primeiro mandato de Trump, em 2017, a postura americana em relação à China mudou radicalmente. O que começou como engajamento construtivo, ainda que cauteloso, evoluiu para uma rivalidade intensa, beirando a hostilidade declarada. As exportações chinesas para os EUA enfrentam tarifas que chegam a quase 40%. O fornecimento de semicondutores de ponta para empresas tecnológicas chinesas foi restringido. Estudantes chineses de áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, antes bem-vindos nos laboratórios das universidades americanas, passaram a ser revistados na fronteira. Até aplicativos como o TikTok, controlado pela ByteDance Ltd., ficaram ameaçados de suspensão no mercado americano.
Em Washington, há a expectativa de que Pequim esteja sob pressão. Supõe-se que a China, dependente de clientes e tecnologias americanas, acabará cedendo. A lógica parece simples: é apenas uma questão de tempo até que o presidente Xi Jinping telefone para a Casa Branca e admita a derrota.
Mas a realidade mostra outra história. É verdade que as mudanças promovidas por Trump complicam a vida de Pequim. Estimativas da Bloomberg Economics indicam que as tarifas atuais poderiam eliminar mais de 50% das vendas chinesas para os EUA. No entanto, as exportações chinesas para o mercado americano representam hoje cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB), bem abaixo do pico de 7% registrado há duas décadas. Essa redução é resultado de uma campanha deliberada de diversificação econômica, tão planejada quanto os esforços dos EUA para diminuir a dependência das cadeias de suprimentos chinesas. Consequentemente, mesmo que metade das exportações para os Estados Unidos seja cortada, o impacto sobre a economia chinesa seria de apenas 1,5% do PIB — um desafio, mas longe de ser um desastre.
Para os EUA, o cenário não é menos preocupante. A guerra comercial não se restringe à China, mas envolve diversos parceiros comerciais. Modelos da Bloomberg Economics projetam que o impacto sobre a economia americana pode atingir 1,6% do PIB, refletindo aumentos nos preços de importações e atrasos nas cadeias de suprimentos.
A resposta chinesa aos esforços americanos também se mostra eficaz. O desempenho avançado do DeepSeek, a versão chinesa do ChatGPT, demonstra a capacidade de seus programadores de contornar restrições de fornecimento de semicondutores. Além disso, o controle de elementos de terras raras — essenciais para setores industriais e de defesa — confere à China uma poderosa arma de negociação. Este recurso foi utilizado nas conversas com os EUA em Genebra e Londres, garantindo concessões importantes durante as negociações.
O resultado é claro: mesmo após quase uma década de tentativas americanas de conter o avanço industrial chinês, a participação da China nas exportações globais permanece elevada. A lição é que o país asiático não apenas sobreviveu às pressões externas, como fortaleceu sua capacidade de enfrentar crises econômicas e tecnológicas. Para os Estados Unidos, a experiência deixa um recado evidente: em um mundo globalizado, força econômica e preparação estratégica caminham lado a lado, e subestimar o planejamento adversário pode custar caro.
Por que a China demonstra tanta resiliência? A resposta está enraizada em mais de um século de história, desde o colapso da dinastia Qing, passando pelo breve período da República, pelos anos turbulentos do maoísmo e até a era das reformas: sempre houve um fio condutor — a preparação estratégica para enfrentar adversidades externas e consolidar sua soberania.
No final do século XIX e início do XX, após sucessivas humilhações por invasores estrangeiros, pensadores chineses voltaram-se para o conceito de “autofortalecimento” por meio da modernização. Um exemplo emblemático é Yan Fu, nascido em 1854 e formado pela academia naval britânica, que traduziu obras de acadêmicos ocidentais como Thomas Huxley e Adam Smith. Foi a partir de Huxley que Yan Fu trouxe para o pensamento chinês a ideia da “sobrevivência do mais apto”, enfatizando que as nações, assim como as espécies, precisavam se fortalecer continuamente para evitar serem dominadas por rivais mais poderosos.
Décadas depois, nos anos 1930, o país mergulhava em conflitos internos entre os comunistas de Mao e os nacionalistas de Chiang Kai-shek. Mao prometia resistência contra os invasores japoneses e defendia a construção de uma sociedade mais igualitária — mensagens que ressoavam profundamente no imaginário coletivo. Ao chegar ao poder em 1949, Mao implementou uma marcha forçada rumo à industrialização, que custou a vida de milhões de chineses. O caminho era tortuoso, mas a meta era clara: afastar ameaças externas. “Os imperialistas americanos sempre quiseram nos destruir”, alertava ele.
Com a morte de Mao, em 1976, a China entrou na era das reformas. O objetivo de autofortalecimento permaneceu, mas as estratégias para alcançá-lo foram aprimoradas. Nos anos 1980 e 1990, acadêmicos como He Xin, da Academia Chinesa de Ciências Sociais, alertaram que o crescimento da China provocaria reações dos países desenvolvidos, que tentariam contê-la. A resposta, segundo He, era clara: construir um sistema industrial autossuficiente para reduzir vulnerabilidades. Como ele dizia: “Uma nação que não possui seu próprio equipamento de comutação é como uma que não possui seu próprio exército.”
O pensamento de He Xin influenciou gerações de planejadores. Em 1983, Deng Xiaoping lançou o Plano Estatal de Desenvolvimento de Alta Tecnologia, buscando reduzir o atraso em relação aos Estados Unidos em setores como tecnologia da informação e automação. Em 1994, Ren Zhengfei, fundador da Huawei, reforçou a lógica da autossuficiência industrial ao declarar ao então presidente Jiang Zemin que depender de equipamentos estrangeiros era equivalente a não ter defesa nacional.
Nos anos 2000, sob Hu Jintao, a China avançou em “inovação local” para absorver tecnologias estrangeiras e ergueu um “Grande Muro de Fogo” para limitar a influência ocidental. Empresas como Google, Facebook e Twitter foram efetivamente excluídas, criando espaço para o surgimento de gigantes locais como Baidu, Tencent e Alibaba.
Com Xi Jinping, desde 2013, a estratégia chinesa se tornou ainda mais ambiciosa. O plano “Made in China 2025” buscou não apenas a autossuficiência, mas também a liderança global em tecnologia, robótica, trens de alta velocidade e veículos elétricos. A iniciativa “Cinturão e Rota” diversificou mercados e reduziu a dependência americana, enquanto ampliava a influência da China por meio de investimentos em portos, ferrovias e rodovias. Embora nem todos os planos tenham sido totalmente bem-sucedidos, houve conquistas concretas, como o aumento das exportações de veículos elétricos e painéis solares, além do fortalecimento de laços com outros mercados emergentes.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, a política externa pós-Guerra Fria foi marcada pela confiança excessiva no triunfo da democracia e do capitalismo. O colapso da União Soviética alimentou a crença de que o autoritarismo estava em declínio. O presidente Bill Clinton via a adesão da China à Organização Mundial do Comércio como uma chance de “criar uma mudança social positiva na China desde a década de 1970”. Seus sucessores, George W. Bush e Barack Obama, mantiveram essa linha de engajamento.
Multinacionais americanas aproveitaram o acesso ao mercado chinês e às fábricas de baixo custo, firmando joint ventures com empresas locais, abrindo milhares de lojas e aproveitando o imenso potencial consumidor. Em troca, setores estratégicos como energia e aço permaneciam cuidadosamente protegidos, limitando a influência estrangeira sobre as áreas mais sensíveis da economia. Essa relação ambígua preparou o terreno para a China consolidar sua autonomia tecnológica e industrial — uma lição que os EUA estão apenas começando a compreender em sua guerra comercial atual.
Num mundo de livre comércio e competição aberta, a agilidade e o dinamismo da economia americana sempre foram vistos como sua maior vantagem. Já no universo mais controlado e planejado da China, o custo do protecionismo e da intervenção estatal é palpável, mas os benefícios estratégicos — especialmente em termos de autossuficiência e resiliência — são igualmente evidentes.
A teoria do “segundo melhor”, formulada pelos economistas Richard Lipsey e Kelvin Lancaster em 1956, ajuda a explicar essa dinâmica. Ela sugere que, quando uma das condições para mercados perfeitos não existe, simplesmente manter as demais intactas, sem adaptação, pode piorar os resultados. Os planejadores chineses passaram décadas aperfeiçoando instrumentos e estratégias para operar em um mundo de segundo melhor; os líderes americanos, até hoje, carecem de uma abordagem equivalente.
Isso não significa que os Estados Unidos estejam completamente indefesos. O controle sobre tecnologia de ponta e propriedade intelectual, aliado ao maior mercado consumidor do planeta, oferece a Washington poder para aplicar medidas dolorosas à China. Investimentos bilionários de empresas como Apple Inc. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. mostram que algumas tentativas de Trump de repatriar a manufatura têm efeito. Como democracia de livre mercado, os EUA também têm a flexibilidade para corrigir rotas econômicas de forma mais rápida do que o sistema rígido de partido único da China.
Porém, o cenário interno chinês adiciona complexidade. O mercado imobiliário em retração, a sobrecapacidade industrial e níveis recordes de endividamento tornam o país vulnerável — mas não fragilizado a ponto de ser derrotado apenas por tarifas. A situação se complica com ações de aliados econômicos: a União Europeia, adotando medidas protecionistas próprias, aplicou tarifas sobre veículos elétricos chineses. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que a China estaria “inundando os mercados globais com produtos baratos e subsidiados para eliminar concorrentes”, ecoando, com formalidade diplomática, o discurso de Trump.
Em meio a esse cenário, Trump reconheceu os limites da abordagem americana. “Não culpo a China”, afirmou logo após anunciar suas tarifas em abril. “Culpo as pessoas que estavam sentadas àquela mesa naquele lindo Salão Oval por permitirem que isso acontecesse.” Suas medidas podem até fracassar: tarifas e restrições podem prejudicar mais empresas do Vale do Silício do que fabricantes chineses em Shenzhen. Mas, no diagnóstico do problema, Trump acerta: os EUA acreditaram que o livre comércio transformaria os líderes chineses — e, na prática, acabaram fortalecendo-os.
O resultado é uma transição difícil para os Estados Unidos, que agora enfrentam uma China mais preparada, estratégica e resiliente do que jamais imaginaram. Enquanto isso, Pequim observa, não apenas reagindo, mas aproveitando cada oportunidade para avançar em direção a uma posição de liderança global, fruto de décadas de planejamento silencioso e perseverança histórica.
Com informações de Bloomberg*
www.expressonoticias.website